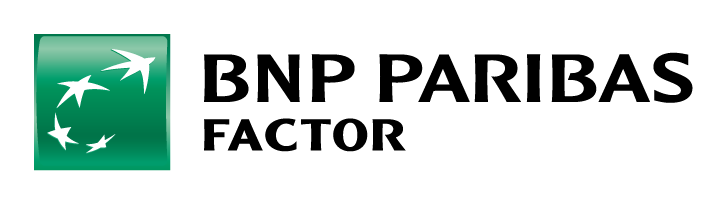“Tentei que a música reforçasse as ideias dos poemas”

Em conversa com o musicólogo Pedro Almeida, o compositor Daniel Moreira fala da encomenda que lhe foi feita pela Casa da Música para escrever uma obra inspirada em textos de Sophia de Mello Breyner sobre o 25 de Abril. A estreia mundial de A Madrugada é no dia 19 deste mês.
PA – Bom dia, Daniel, obrigado pela disponibilidade. Queria começar por lhe perguntar o que significa receber uma encomenda deste teor.
DM – É um desafio muito grande, e uma responsabilidade também… E é a possibilidade de fazer música para uma ocasião que nos diz muito enquanto pessoas.
PA – O Daniel, tal como eu, é de uma geração que não viveu a revolução. A nossa forma de olhar para o 25 de Abril não será a mesma de quem o viveu, ou de quem esteja mais longe ainda dessa fase da história. Também por isso, fico curioso quanto à sua perspetiva.
DM – O 25 de abril foi muito importante para a minha família mais próxima, em grande parte composta por contestatários do regime. O meu avô materno foi, inclusivamente, várias vezes preso pela PIDE e torturado. Então eu cresci com essas histórias. Em certa medida, para mim, fazer uma peça sobre a revolução foi também voltar aí, às memórias da minha família.
PA – Quanto à escolha dos textos, foi sugestão do Daniel ou era algo que já estava definido?
DM – A encomenda já tinha como premissa que deveriam ser poemas da Sophia de Mello Breyner sobre o 25 de Abril, mas nem eu ousaria sugerir outra coisa, porque não sei se encontraria melhor. Na verdade, é um privilégio enorme poder trabalhar estes poemas, não só pela força expressiva e emocional que têm, pela sua carga histórica, mas também pela musicalidade. São extremamente sugestivos em termos musicais.
PA – E de muita subtileza, ao mesmo tempo.
DM – Sim, é um estilo muito… Não é bem lacónico, mas muito preciso. Se não fosse tão expressivo, quase diria ser austero. Mas, voltando à encomenda, o director artístico da Casa da Música já tinha como pressuposto a inclusão do poema “Esta é a madrugada que eu esperava”. O que estava em aberto era a possbilidade de eu utilizar outros poemas da Sophia, coisa que acabei por fazer: não só poemas do 25 de Abril, do início da revolução, mas também sobre o período anterior.
PA – Sim, aliás, quando vi a partitura, com os poemas transcritos, percebi que há ali um intuito de retratar o antes, uma vivência quotidiana mais restringida, depois há um poema que refere mais concretamente a situação da guerra, em seguida vem esse da madrugada e por fim um outro que tem mais a ver com o que se vai construir a partir daí.
DM – A minha intuição foi que, embora o poema da madrugada seja absolutamente extraordinário, se o apresentasse apenas no início da obra corria o risco de a luminosidade que transparece daquelas palavras perder força, pela ausência de contraste.
PA – Exatamente, a luz faz efeito num contexto de sombra.
DM – Sim, e foi por isso que, tanto de um ponto de vista programático como de um outro estritamente musical, me fez sentido ter alguma sombra antes de chegar à luz, para que esta resplandecesse. E, claro, também incluí passagens de um poema muito específico sobre a guerra colonial, como forma de trazer um bocadinho essa que foi uma das causas da revolução, a insatisfação em relação à guerra.
PA – Que dificuldade maior, em termos musicais, lhe colocaram estes poemas?
DM – O desafio maior da peça acho que foi tentar incluir toda esta narrativa num continuum que fizesse sentido. A peça chama -se A madrugada, e é esse o foco, mas poderia chamar-se A noite, a madrugada e a manhã. Antes de me dedicar a ela como prioridade, ainda estive um mês, um mês e meio, só em congeminações, a pensar no que poderia acontecer, e foi aí um bocadinho que começou a estruturar-se essa narrativa. Claro que depois as coisas saem sempre diferentes do planeado, faz parte do processo criativo. Mas houve um outro desafio grande, decorrente do facto de esta ter sido a peça que envolve maior complexidade de efetivos que eu fiz até hoje, com orquestra, dois coros, um dos quais infantil, e eletrónica: encontrar um espaço e uma função musical e programática para cada um deles dentro desse contínuo, sem cair naquele risco, que eu nem sempre consigo evitar, de sobreacumular elementos. Na verdade, acho que não há um único momento da peça em que as quatro forças estejam a trabalhar em simultaneo.
PA – Como é que foi gerir esses mundos sonoros, que têm que fazer parte de um todo e nem sempre, imagino, são fáceis de conjugar? E queria perguntar também uma coisa: eu reparei que a peça tem guitarra portuguesa. É algo que não estamos muito habituados a ver num contexto destes e, ainda por cima, numa peça com estas forças. Como é que encara, aqui, o papel da guitarra portuguesa.
DM – Esta é uma peça muito portuguesa, não é? Os textos são portugueses, é sobre um momento histórico do país e, na parte instrumental, pareceu-me que faltava qualquer coisa que fosse imediatamente reconhecida como portuguesa e que remetesse um bocado para aquela época, incluindo a anterior e a posterior. E foi por isso que me lembrei de incorporar a guitarra portuguesa. Também ajuda aqui que, por sugestão minha à Casa da Música, tenha sido contratado o Miguel Amaral, com quem já trabalhei em vários projetos e que, além de tocar os fados e aquilo que um músico de guitarra portuguesa normalmente toca, também tem uma formação clássica, é compositor, já gravou vários discos… E eu, na verdade, acho que, assim como há sinfonias de Mahler que têm bandolim, por exemplo, uma prática que depois o Webern continuou um bocadinho, a guitarra portuguesa se integra perfeitamente na orquestra. Procurei foi encontrar algumas afinidades sonoras, porque a guitarra portuguesa tem um timbre muito específico, muito brilhante, muito explosivo no ataque, e uma tentativa que eu fiz foi de combiná-la com instrumentos de percussão metálica, por um lado, e por outro com a harpa. Uma espécie de trio. A minha ideia era um bocadinho uma guitarra portuguesa orquestralmente expandida. Mas a música para guitarra portuguesa que eu estive a ouvir antes de fazer a peça foi sobretudo Carlos Paredes, portanto a referência que está cá é mais essa do que a do fado. Aliás, até posso dizer: o “com fustração”, que é a primeira indicação de caráter que está na peça, é uma alusão a uma obra do Carlos Paredes, Frustração, que parece exprimir um pouco esse sentimento em relação àquele período antes do 25 de Abril.
PA – E o Carlos Paredes, ainda por cima, é um dos músicos que primeiro reivindicaram para a guitarra portuguesa um estatuto não necessariamente associado ao fado.
DM – Eu não tenho nada contra o fado e poderia até ter explorado aqui, ironicamente, as ligações com o fado antes e depois de 25 de Abril, mas não quis fazer isso, entre outras razões, porque não tenho muita afinidade pessoal com o fado, isto é, aprecio algumas coisas, mas não tenho um conhecimento tão aprofundado, sempre ouvi muito mais o Carlos Paredes. Então, achei que fazia mais sentido trabalhar referências que fossem importantes para mim e não tentar trazer coisas que me fossem mais exteriores. Mas não sei se as pessoas, ao ouvir a guitarra portuguesa, acabarão por se lembrar do fado, mesmo que para mim essa ligação não tenha estado lá. Felizmente, o compositor não é dono da leitura que as pessoas fazem.
PA – Até que ponto o produto final condiz com aquilo que imaginou numa fase inicial do processo?
DM – Eu, como lhe disse, estive cerca de um mês e meio em investigações várias. Li muitas coisas sobre aquele período, vi filmes – marcou-me muito, por exemplo, ver o Um Adeus Português, do João Botelho –, ouvi atentamente obras musicais de outras épocas que tivessem temática parecida ou envolvessem forças instrumentais e vocais comparáveis e, no meio dessa turbulência de referências, fui tendo ideias. Lembro-me de que quando cheguei ao fim do tal mês e meio eu tinha mais ou menos o plano fechado. Ainda não sabia muito bem o que ia acontecer no final. O Pedro disse há pouco que a peça tem o antes, o 25 de abril e o depois, mas o que vem depois é o que vem imediatamente a seguir. Eu tinha chegado a pensar em ir um bocadinho mais além, mas pareceu-me que já era demasiado ambicioso e saía do contexto da peça, portanto é basicamente o antes e o durante, e nos planos iniciais eu ainda não sabia muito bem se ia haver qualquer alusão directa ao depois… Talvez tenha acabado por haver, mas prefiro não me pronunciar muito sobre isso. Pode ser que haja algo no final da peça, não é muito claro. Mas uma coisa é uma pessoa ter um plano abstracto e outra é depois começar a trabalhar com material musical concreto. A pessoa não imagina a peça antes de a fazer, porque a imaginação que tem é sempre abstracta, são relações que imagina e não tanto sons, frases, portanto há aí uma parte que só se descobre ao fazer e, na verdade, eu ainda ando a descobrir, porque há uma parte muito substancial do resultado final que ainda está para fazer, que ainda vai depender dos ensaios, de as pessoas incorporarem a música de uma forma ou de outra… Eu vou ter surpresas de certeza, vou querer fazer modificações, vou acabar por ver que algumas partes da peça vão funcionar de maneira diferente da que eu tinha pensado… É sempre assim.
PA – O próprio material, também, de vez em quando, dita os seus próprios caminhos, os seus próprios retoques.
DM – Sim, completamente. Por exemplo, eu não sabia de antemão como é que iria fazer a transição entre a ditadura e a revolução, musicalmente. Depois, quando cheguei lá foi muito fácil. Tinha ali uma espécie de cluster no registo grave e lembrei-me de fazer uma coisa que é mais ou menos o contrário do que o Grisey faz no Partiels – ele tem um acorde muito aberto e vai transpondo as notas uma oitava abaixo para ficar cada vez mais escuro. Eu fiz o contrário. E de repente tornou-se claro: era fazer com que aquela transição durasse dois minutos. Mas antes eu não o sabia.
PA – Pois… Como é que se musica uma revolução?
DM – Eu tentei manter-me muito próximo dos textos. Não dar uma visão geral da revolução, fosse lá isso o que fosse, mas enfatizar as ideias que estão nos poemas. Toda a orquestração que existe, todo o trabalho com as vozes, com a eletrónica, foi no sentido de musicar as ideias principais dos textos. A ideia de início, sobretudo, de começo limpo, de emergência de algo novo, e também uma ideia muito importante, que acabou por ocupar uns 30 segundos de música, que é a ideia de catharsis.
PA – A partitura é dedicada à memória do seu avô Jerónimo. É alguém com quem tenha trocado impressões sobre este tipo de temáticas? É uma figura que tem a ver com o teor desta peça?
DM – Como lhe disse há bocado, e era a ele que me referia, o meu avô foi preso mais do que uma vez pela PIDE, fugiu uma vez da prisão, foi torturado. Ele era mesmo do Partido Comunista, na clandestinidade. Então, embora eu não seja comunista, conheço o papel que muitos membros desse partido tiveram na resistência ao regime. Ele já faleceu há alguns anos, mas a esposa dele, a minha avó, ainda é viva, e posso dizer que a voz dela entra na peça, na parte eletrônica, Mas, sim, lembro-me de falar com o meu avô muitas vezes sobre o período anterior e a revolução, e era óbvio que o 25 de abril foi certamente o dia mais importante da vida dele. Portanto, é uma peça que tem parte da Sophia e desta memória histórica tal como eu a posso ter por via indireta, mas está cheia também de referências pessoais.
PA – Estamos quase a terminar. Qual gostaria que fosse o mindset de quem vai assistir ao concerto e ouvir esta obra?
DM – Eu, como compositor, a única coisa que posso esperar é que as pessoas tenham o máximo de atenção. Quanto ao resto, cada pessoa saberá o que retirar da peça. Claro que há sempre uma questão de contexto: se a pessoa que ouvir a peça não perceber a língua portuguesa, ou se tiver caído na sala de pára-quedas sem saber que tipo concerto é aquele, acaba muito provavelmente por perder uma parte importante da peça. Embora, mesmo assim, talvez ainda pudesse ouvir uma narrativa de algo mais agitado e sombrio e turbulento e sinistro para algo mais limpo e luminoso no fim. Se eu tiver feito bem o meu trabalho, e não sei se fiz, acho que isso resultaria assim.
Em conversa com o musicólogo Pedro Almeida, o compositor Daniel Moreira fala da encomenda que lhe foi feita pela Casa da Música para escrever uma obra inspirada em textos de Sophia de Mello Breyner sobre o 25 de Abril. A estreia mundial de A Madrugada é no dia 19 deste mês.
PA – Bom dia, Daniel, obrigado pela disponibilidade. Queria começar por lhe perguntar o que significa receber uma encomenda deste teor.
DM – É um desafio muito grande, e uma responsabilidade também… E é a possibilidade de fazer música para uma ocasião que nos diz muito enquanto pessoas.
PA – O Daniel, tal como eu, é de uma geração que não viveu a revolução. A nossa forma de olhar para o 25 de Abril não será a mesma de quem o viveu, ou de quem esteja mais longe ainda dessa fase da história. Também por isso, fico curioso quanto à sua perspetiva.
DM – O 25 de abril foi muito importante para a minha família mais próxima, em grande parte composta por contestatários do regime. O meu avô materno foi, inclusivamente, várias vezes preso pela PIDE e torturado. Então eu cresci com essas histórias. Em certa medida, para mim, fazer uma peça sobre a revolução foi também voltar aí, às memórias da minha família.
PA – Quanto à escolha dos textos, foi sugestão do Daniel ou era algo que já estava definido?
DM – A encomenda já tinha como premissa que deveriam ser poemas da Sophia de Mello Breyner sobre o 25 de Abril, mas nem eu ousaria sugerir outra coisa, porque não sei se encontraria melhor. Na verdade, é um privilégio enorme poder trabalhar estes poemas, não só pela força expressiva e emocional que têm, pela sua carga histórica, mas também pela musicalidade. São extremamente sugestivos em termos musicais.
PA – E de muita subtileza, ao mesmo tempo.
DM – Sim, é um estilo muito… Não é bem lacónico, mas muito preciso. Se não fosse tão expressivo, quase diria ser austero. Mas, voltando à encomenda, o director artístico da Casa da Música já tinha como pressuposto a inclusão do poema “Esta é a madrugada que eu esperava”. O que estava em aberto era a possbilidade de eu utilizar outros poemas da Sophia, coisa que acabei por fazer: não só poemas do 25 de Abril, do início da revolução, mas também sobre o período anterior.
PA – Sim, aliás, quando vi a partitura, com os poemas transcritos, percebi que há ali um intuito de retratar o antes, uma vivência quotidiana mais restringida, depois há um poema que refere mais concretamente a situação da guerra, em seguida vem esse da madrugada e por fim um outro que tem mais a ver com o que se vai construir a partir daí.
DM – A minha intuição foi que, embora o poema da madrugada seja absolutamente extraordinário, se o apresentasse apenas no início da obra corria o risco de a luminosidade que transparece daquelas palavras perder força, pela ausência de contraste.
PA – Exatamente, a luz faz efeito num contexto de sombra.
DM – Sim, e foi por isso que, tanto de um ponto de vista programático como de um outro estritamente musical, me fez sentido ter alguma sombra antes de chegar à luz, para que esta resplandecesse. E, claro, também incluí passagens de um poema muito específico sobre a guerra colonial, como forma de trazer um bocadinho essa que foi uma das causas da revolução, a insatisfação em relação à guerra.
PA – Que dificuldade maior, em termos musicais, lhe colocaram estes poemas?
DM – O desafio maior da peça acho que foi tentar incluir toda esta narrativa num continuum que fizesse sentido. A peça chama -se A madrugada, e é esse o foco, mas poderia chamar-se A noite, a madrugada e a manhã. Antes de me dedicar a ela como prioridade, ainda estive um mês, um mês e meio, só em congeminações, a pensar no que poderia acontecer, e foi aí um bocadinho que começou a estruturar-se essa narrativa. Claro que depois as coisas saem sempre diferentes do planeado, faz parte do processo criativo. Mas houve um outro desafio grande, decorrente do facto de esta ter sido a peça que envolve maior complexidade de efetivos que eu fiz até hoje, com orquestra, dois coros, um dos quais infantil, e eletrónica: encontrar um espaço e uma função musical e programática para cada um deles dentro desse contínuo, sem cair naquele risco, que eu nem sempre consigo evitar, de sobreacumular elementos. Na verdade, acho que não há um único momento da peça em que as quatro forças estejam a trabalhar em simultaneo.
PA – Como é que foi gerir esses mundos sonoros, que têm que fazer parte de um todo e nem sempre, imagino, são fáceis de conjugar? E queria perguntar também uma coisa: eu reparei que a peça tem guitarra portuguesa. É algo que não estamos muito habituados a ver num contexto destes e, ainda por cima, numa peça com estas forças. Como é que encara, aqui, o papel da guitarra portuguesa.
DM – Esta é uma peça muito portuguesa, não é? Os textos são portugueses, é sobre um momento histórico do país e, na parte instrumental, pareceu-me que faltava qualquer coisa que fosse imediatamente reconhecida como portuguesa e que remetesse um bocado para aquela época, incluindo a anterior e a posterior. E foi por isso que me lembrei de incorporar a guitarra portuguesa. Também ajuda aqui que, por sugestão minha à Casa da Música, tenha sido contratado o Miguel Amaral, com quem já trabalhei em vários projetos e que, além de tocar os fados e aquilo que um músico de guitarra portuguesa normalmente toca, também tem uma formação clássica, é compositor, já gravou vários discos… E eu, na verdade, acho que, assim como há sinfonias de Mahler que têm bandolim, por exemplo, uma prática que depois o Webern continuou um bocadinho, a guitarra portuguesa se integra perfeitamente na orquestra. Procurei foi encontrar algumas afinidades sonoras, porque a guitarra portuguesa tem um timbre muito específico, muito brilhante, muito explosivo no ataque, e uma tentativa que eu fiz foi de combiná-la com instrumentos de percussão metálica, por um lado, e por outro com a harpa. Uma espécie de trio. A minha ideia era um bocadinho uma guitarra portuguesa orquestralmente expandida. Mas a música para guitarra portuguesa que eu estive a ouvir antes de fazer a peça foi sobretudo Carlos Paredes, portanto a referência que está cá é mais essa do que a do fado. Aliás, até posso dizer: o “com fustração”, que é a primeira indicação de caráter que está na peça, é uma alusão a uma obra do Carlos Paredes, Frustração, que parece exprimir um pouco esse sentimento em relação àquele período antes do 25 de Abril.
PA – E o Carlos Paredes, ainda por cima, é um dos músicos que primeiro reivindicaram para a guitarra portuguesa um estatuto não necessariamente associado ao fado.
DM – Eu não tenho nada contra o fado e poderia até ter explorado aqui, ironicamente, as ligações com o fado antes e depois de 25 de Abril, mas não quis fazer isso, entre outras razões, porque não tenho muita afinidade pessoal com o fado, isto é, aprecio algumas coisas, mas não tenho um conhecimento tão aprofundado, sempre ouvi muito mais o Carlos Paredes. Então, achei que fazia mais sentido trabalhar referências que fossem importantes para mim e não tentar trazer coisas que me fossem mais exteriores. Mas não sei se as pessoas, ao ouvir a guitarra portuguesa, acabarão por se lembrar do fado, mesmo que para mim essa ligação não tenha estado lá. Felizmente, o compositor não é dono da leitura que as pessoas fazem.
PA – Até que ponto o produto final condiz com aquilo que imaginou numa fase inicial do processo?
DM – Eu, como lhe disse, estive cerca de um mês e meio em investigações várias. Li muitas coisas sobre aquele período, vi filmes – marcou-me muito, por exemplo, ver o Um Adeus Português, do João Botelho –, ouvi atentamente obras musicais de outras épocas que tivessem temática parecida ou envolvessem forças instrumentais e vocais comparáveis e, no meio dessa turbulência de referências, fui tendo ideias. Lembro-me de que quando cheguei ao fim do tal mês e meio eu tinha mais ou menos o plano fechado. Ainda não sabia muito bem o que ia acontecer no final. O Pedro disse há pouco que a peça tem o antes, o 25 de abril e o depois, mas o que vem depois é o que vem imediatamente a seguir. Eu tinha chegado a pensar em ir um bocadinho mais além, mas pareceu-me que já era demasiado ambicioso e saía do contexto da peça, portanto é basicamente o antes e o durante, e nos planos iniciais eu ainda não sabia muito bem se ia haver qualquer alusão directa ao depois… Talvez tenha acabado por haver, mas prefiro não me pronunciar muito sobre isso. Pode ser que haja algo no final da peça, não é muito claro. Mas uma coisa é uma pessoa ter um plano abstracto e outra é depois começar a trabalhar com material musical concreto. A pessoa não imagina a peça antes de a fazer, porque a imaginação que tem é sempre abstracta, são relações que imagina e não tanto sons, frases, portanto há aí uma parte que só se descobre ao fazer e, na verdade, eu ainda ando a descobrir, porque há uma parte muito substancial do resultado final que ainda está para fazer, que ainda vai depender dos ensaios, de as pessoas incorporarem a música de uma forma ou de outra… Eu vou ter surpresas de certeza, vou querer fazer modificações, vou acabar por ver que algumas partes da peça vão funcionar de maneira diferente da que eu tinha pensado… É sempre assim.
PA – O próprio material, também, de vez em quando, dita os seus próprios caminhos, os seus próprios retoques.
DM – Sim, completamente. Por exemplo, eu não sabia de antemão como é que iria fazer a transição entre a ditadura e a revolução, musicalmente. Depois, quando cheguei lá foi muito fácil. Tinha ali uma espécie de cluster no registo grave e lembrei-me de fazer uma coisa que é mais ou menos o contrário do que o Grisey faz no Partiels – ele tem um acorde muito aberto e vai transpondo as notas uma oitava abaixo para ficar cada vez mais escuro. Eu fiz o contrário. E de repente tornou-se claro: era fazer com que aquela transição durasse dois minutos. Mas antes eu não o sabia.
PA – Pois… Como é que se musica uma revolução?
DM – Eu tentei manter-me muito próximo dos textos. Não dar uma visão geral da revolução, fosse lá isso o que fosse, mas enfatizar as ideias que estão nos poemas. Toda a orquestração que existe, todo o trabalho com as vozes, com a eletrónica, foi no sentido de musicar as ideias principais dos textos. A ideia de início, sobretudo, de começo limpo, de emergência de algo novo, e também uma ideia muito importante, que acabou por ocupar uns 30 segundos de música, que é a ideia de catharsis.
PA – A partitura é dedicada à memória do seu avô Jerónimo. É alguém com quem tenha trocado impressões sobre este tipo de temáticas? É uma figura que tem a ver com o teor desta peça?
DM – Como lhe disse há bocado, e era a ele que me referia, o meu avô foi preso mais do que uma vez pela PIDE, fugiu uma vez da prisão, foi torturado. Ele era mesmo do Partido Comunista, na clandestinidade. Então, embora eu não seja comunista, conheço o papel que muitos membros desse partido tiveram na resistência ao regime. Ele já faleceu há alguns anos, mas a esposa dele, a minha avó, ainda é viva, e posso dizer que a voz dela entra na peça, na parte eletrônica, Mas, sim, lembro-me de falar com o meu avô muitas vezes sobre o período anterior e a revolução, e era óbvio que o 25 de abril foi certamente o dia mais importante da vida dele. Portanto, é uma peça que tem parte da Sophia e desta memória histórica tal como eu a posso ter por via indireta, mas está cheia também de referências pessoais.
PA – Estamos quase a terminar. Qual gostaria que fosse o mindset de quem vai assistir ao concerto e ouvir esta obra?
DM – Eu, como compositor, a única coisa que posso esperar é que as pessoas tenham o máximo de atenção. Quanto ao resto, cada pessoa saberá o que retirar da peça. Claro que há sempre uma questão de contexto: se a pessoa que ouvir a peça não perceber a língua portuguesa, ou se tiver caído na sala de pára-quedas sem saber que tipo concerto é aquele, acaba muito provavelmente por perder uma parte importante da peça. Embora, mesmo assim, talvez ainda pudesse ouvir uma narrativa de algo mais agitado e sombrio e turbulento e sinistro para algo mais limpo e luminoso no fim. Se eu tiver feito bem o meu trabalho, e não sei se fiz, acho que isso resultaria assim.